Casa de ferreiro, espeto de pau, já dizia o velho ditado que eu cumpria à risca: nunca fora ao topo daquela montanha que ficava ao lado de onde eu morava. Já tinha ouvido falar sim, inúmeras, mas como já disse, eu erra ferreiro até então. Até o convite do vizinho que, após inúmeras tentativas, finalmente me convenceu.
Era Primavera. O clima estava ótimo, nem quente nem frio; e o amanhecer prometia calor. No banco de trás então, o vizinho, Julia, e eu. Na frente, o motorista e sua parceira de longa data, Raquel.
Como as viagens sempre começam antes de começar, tudo já tinha sido arquitetado, incluindo os mantimentos que seriam levados, as bebidas, os adornos para o desfile sempre acompanhado dos óculos de sol, o essencial gelo e as roupas de frio, caso, e frequentemente necessárias. Tudo à postos para um pretenso dia de sol regado a gente bonita, música ao vivo e uma paisagem de-matar-lá-em-cima; as descrições que eu ouvira do vizinho eram deslumbrantes, incluindo duas araras, uma azul e a outra vermelha que, segundo os relatos, encantaram quem estivera por lá, voando sobre as pessoas e arrancando aplausos.
E aplausos para nós que, pelo que entendi, milagrosamente conseguimos sair ‘mais ou menos no horário’, segundo o motorista que agora nos apressava-irritante a partirmos. Eu ainda não o conhecia, mas comecei a ver as cores.
E seguimos, a viagem é longa, três ou quatro horas, sem parada ou com, cento e vinte ou cem, ou oitenta, sempre com-radares-com-certeza, o tempo também pode ser motivo de atrito. Dito e feito de repente vem a multa, ou a suposta, o que ainda é pior, pois essa fica dentro do peito, queimando o estômago, até que chega. Aí a gente adoece de expectativa frustrada. A certeza do dinheiro que ainda será rasgado abre então a primeira querela entre o motorista e a parceira; querelinha a princípio, mas crescendo, bate-boca-de-dois, querelão; E nós ali atrás tricotando-em-três, e em silêncio pois o homem esbravejava: “Eu sei que sou eu que estou dirigindo”, dizia à esposa enquanto batia histérico no volante. Ela, que ironicamente era quem cuidava das finanças da casa, tentava acalmá-lo, em vão, enquanto o já conhecido bufo do marido reinava quente, barulhento, triunfante. E reina conquistando quilômetros até que uma providencial parada surge no exato momento da necessidade do mijo de Julia, que em alto e bom tom manifesta sua vontade, e quebra assim aquele climão que rolava alí dentro. Lá fora o sol subia e prometia cores. Eu sonhava com o azul, mal pensava no verde.
Mijamos, e lavamos as mãos, e o rosto que ainda acordava; e olhamos no espelho, as gotas que escorriam, bom dia novamente. Um bocejo, duas pernas esticadas, ou dez, e pães de queijo, coxinhas, sucos, cafés e pingados, e nada da empada.
Justo a bendita empada. Por que é que ele tinha que escolher justo a empada, dentre tantos dando sopa na vitrine de salgados do balcão? Tinha enrolado para escolher, coxinha, assado, espetos, mas não; ele queria, e não negociava, a empada de palmito. A moça tinha dito que sim; mas se enganou e voltara com um displicente não-nas-mãos: “Acabou”, disse, mas o motorista não era homem-de-não, a não ser que dele, e vociferou. Mais que isso, constrangeu, não só a si, mas a todos, e ainda mais a ela, pobre atendente que, assustada com a fera da empada, como ficou conhecido logo após o xilique, chorou uma pia-que-pingava sem parar.
Todos nós pasmamos. Eu quase arrependido, mas pouco, pois a experiência de observar cientificamente, ou em quadrinhos, aquele momento, não tinha preço. E eu iria até o fim, com a certeza de que não seria o último episódio; assim eu pintava como Da Vinci e sorvia cada detalhe: como quando nosso amigo-no-comando resolve diluir a raiva do salgado inexistente na moça do caixa que, longe da treta da empada e não sabendo de nada, errou no troco, erro grave. Ele soca a estrutura do caixa, chama a atenção dos seguranças e nós quase acabamos presos. E eu anotando tudo.
De volta à estrada, o silêncio retoma o trono por um tempo e eu cochilo de ouvidos atentos. A estrada é sempre uma prova de amor, ou de ódio, ou de breves períodos de fúria. Assim, conto também com um olho aberto e o outro fechado e a discrição do casal ao meu lado para sentir os acontecimentos por vir-ao-volante. Já conhecíamos a tensão dos bancos da frente: um dirige e o outro também, este é o arranjo. Ela agora toca e ele fala; devem ser coisas do falo, privado, onde a gente não mete a colher, nem dá opinião, somente cala. “Vira aqui”, ele que nunca cala sugere, e ela vira. “Para!”, e ela para. “Vira para a esquerda”, e ela vira novamente e nós lá atrás sorrimos baixinho; como adolescentes que não querem ‘entregar’ e logo calamos novamente denunciados pelos olhos no retrovisor que sugerem cuidado; ou medo.
A cada curva um comando. Os verbos no imperativo ditam o tom; breque!, siga!, acelere!, tá errado!, porra!, sua burra!, e ela para totalmente: “cala a boca, Tuba!”, e ele sua. Não acostumado ao espelho do comando, primeiro espuma irado; depois sai do carro, anda uns trinta metros, olha adiante, para os lados, as vacas que pastam, a cerca, o caminho que acabou, não há mais para onde ir. Chuta as pedras, da um soco na árvore e bate na própria cabeça repetidas vezes, frustrado, como o combate inglório do vampiro que detesta sangue.
Quem era ele? indagávamos. Mas a esposa, casada há muito, teoricamente já sabia, com certeza-convivia. Ou nem mesmo ela, pois como dizem, mesmo depois de décadas, não conhecemos o parceiro, ou a parceira, pois as essências nem sempre são reveladas de todo; muito menos de pronto. De forma que a dúvida perdurou. Ele volta em direção ao carro depois de alguns minutos, ainda arfante e agora com as mãos machucadas. Eu vejo um um pouco de verde nelas; imagino uma folha esmagada, e seiva, que é um tipo de sangue. Guardo para mim.
A poucos metros do carro ele para. Estica o corpo, joga os ombros para trás, levanta o pescoço e urra debilmente num tom de voz animalesco. Um leão, talvez, gorila. Do topo dos pulmões, como dizem, o som nos alcança através de janelas fechadas e damos as mãos, nós três ali atrás, num misto-de medo, sorriso e emojis. “Ele é um emoji, pensei sorrindo, mas tememos de verdade. Ele fechou os pulsos enquanto urrava e pudemos ver as veias em seus braços empapuçarem. Seu pescoço também inchou e seu rosto ficou imediatamente vermelho, e a progressão do vermelho, que eu imaginava uma explosão, quase aconteceu; mas ele parou, olhou para nós com olhos-também vermelhos, puxou mais um pouco de ar e berrou novamente, mais alto-e-longamente, obliterando aquele nosso binômio meio-medo meio-sorriso, que agora não estampava nenhum de nós. As rugas eram de preocupação, e junto veio pandora. Estávamos dentro do carro presos dentro da caixa, supostamente protegidos.
Raquel endossava nossa esperança. “Gente, eu conheço meu marido. Podem ficar tranquilos que já passa.” Então quer dizer que isso já aconteceu? pensei, e acho que pensamos nós, pois a risada que escapou da gente ali atrás fez com que até ela ali na frente risse; e compartilhamos a ironia pelo retrovisor: sim, estamos bem tranquilos
Mas hipnotizados pelo espelho, esquecemos de olhar o para-brisa: ninguém alí na frente! Do lado-esquerdo também nada. Mas a porta dianteira-direita se abre, é ele que chega: molhado-ofegante, senta uma grande carranca, assustadora besta, tubarão assassino; Tuba, o primeiro apelido que estamparia algumas das capas dos principais jornais da cidade na segunda logo cedo. Semanas depois, a mídia nacional pintaria um quadro ainda mais colorido, para um outro nome.
Em marcha-cautela, é ela que agora toca. Ele calado pouco se move, como que recuperando-se. Dá para ouvir sua respiração acelerada e ver com nitidez as gotas de suor na nuca, que correm. Sem olhar para trás ou comentar nada, ele abre o vidro enquanto o carro segue pela estrada de terra no sentido oposto, uns cinquenta quilômetros de erro; a esposa que não tolera-sequer partícula, aguenta também muda a brisa de pó e torce para o tempo que passe. Mas ele corre mais morosa que a mente.
Não sabíamos o que ele pensava pois não ousávamos perguntar… Ou engolíamos o momento à seco e esperávamos a bonança, que via de regra sucede a tempestade. As máximas e os ditados viram objeto de desejo nessas situações e é impossível não nos apegarmos a eles. Grudo, e do banco vejo a larga nuca aquietar-se. Os finos pelos param de vibrar e a cor dá lampejos de mudança. O retrovisor da motorista nos confirma a tendência-calmaria e Julia não perde a oportunidade: “Tudo bem, Tuba?”
Ele não olha para trás, para nós, ou Raquel que continua a dirigir também sem olhares desfocados. Ela é só para frente, sem desvios ou atalhos, só-pés-pesados que queriam chegar. E nós também. E com o tubarão agora dando sinais de que era peixe, acalmamos no barco-pescadores e nos deixamos levar pela fluidez do asfalto que agora orientava nosso rumo.
Em uma hora chegamos; ainda era cedo e a fila também amanhecia. Julia cochilara; o vizinho e eu ainda trocávamos olhares desconfiados e Raquel tentava trocar tímidas sílabas com o marido que continuava amuado. O desconforto que sentira, o peso-do-erro, a vergonha, acho que tudo isso o melindrou de certa forma. Por isso o mal humor. Mas não há fila nesse mundo que serene belzebu, quiça qualquer pessoa. Assim ele salta do carro após alguns minutos de espera-da-cancela e resolve subir à pé-o-pico. A subida é íngreme e o sol já subiu também, e ele é grande, e é pesado. Mas pode também ser muito forte e resistente, ou até mais, que é o que desconfiamos a aquela altura. Assim assistimos sua marcha morro acima até a segunda curva, quando some. “Fazer o que?” lamentamos juntos e resignados como que em uníssono dada a nossa conexão naquele momento. Mas um “E agora?” também nos ocorreu, suscitando de repente a necessidade de uma ação; mas a urgência sucumbiu rapidamente à paz, a propósito muito melhor e mais adequada ao momento geral do dia (o nosso especificamente estava na contramão das promessas), ensolarado, alegre e cheio de blues por vir. Então ficamos; tentamos deixar par-alá, meu deus.
A subida após a cancela era de uns oitocentos metros, conforme nos informou o segurança que observara admirado nosso amigo subir o caminho com tamanha intensidade. “Os carros”, disse “normalmente sobem em primeira marcha; e eu o vi correndo enquanto vinha para cá”. “Correndo?” perguntamos também em uníssono, espantados. “Meu marido nunca corre; como pode? O senhor tem certeza?”
Na dúvida disse que sim; que era um homem grande, de camisa rasgada-apertada, que corria devagar mas sem parar e que estava como a cor da mangueira, a escola de samba em aquarelas; e não ofegante daqueles que se cansam, mas dos que se transformam, que lutam para não vestir a fantasia obrigatória, a que vem e vai a bel prazer, e que cola-e—comanda quando surge, e urge ser. Como também o demônio que, quando clama para si o outro, (lhe) imputa ainda outras vozes, forças e cores.
A cancela se abre. A expectativa de quem está à nossa frente, ou atrás de nós é de festa; a nossa não é nem expectativa. É algo que flerta com as tais vozes que poderemos ouvir, as forças que desconhecemos, ou com a cores que não são nem da arara azul ou da vermelha que tanto queríamos ver. Apreensão talvez seja a palavra certa, pois na fila que se movia morro acima, éramos o elo dos sentidos buscando mais um para a história que se contava bem diante de nós, por nós, outrora coadjuvantes, agora detetives desvendando um mistério. Para onde ele tinha ido? “Cadê o meu marido? O que está acontecendo com ele?” chorava Raquel que nem mais dirigia. Suas pernas tremiam, suas mãos suavam, suas unhas diminuíam de tamanho. Os metros passavam lentos e ela não se aguentava. Então puxou o freio de mão e desceu do carro. Olhou para nós um longo olhar, e com os seus de detetive começou a seguir pegadas. E nós ficamos para trás. O casal ao meu lado pulou para frente e Julia assumiu o comando do carro. Pudemos assim acompanhar os primeiros movimentos de Raquel que pisava firme enquanto observava todos os detalhes da trilha que já tinha identificado, e seguia: ele definitivamente tinha passado por lá.
Ficamos para trás. Ela seguiu adiante por uma boa centena de metros à frente, percurso que demoramos uns dez minutos para percorrer, quando a vimos esperando por nós. Ela pedia para a gente correr e apontava frenética para o cantinho da estrada mostrando alguma coisa. Fomos chegando perto, mais perto, entendemos uma pegada. “Sim, uma pegada; mas vejam!”. A gente não via. “Vejam o tamanho dessa pegada”. Nós vimos enquanto ela entrava no carro e nós seguimos; seguíamos as pegadas que iam ficando cada vez mas óbvias, mas claras. E entendemos que não era uma questão de nitidez, mas de tamanho. Cresciam rapidamente até que viraram pés descalços, mas também crescendo. Achamos retalhos de calças, meias e também botões de camisa; por fim os óculos de sol, essencial adereço para a festa, agora grosseiramente esmagado no chão e um um caco da lente manchado de tinta. “Tinta?”
Mas tinta não pinga-do-nada, de onde é que vinha? Peguei o caco, molhei o dedo, esfreguei um no outro, entendi a textura. Pouco viscosa.
Alguns metros acima achamos uma outra gota, talvez maior, pois escorria para dentro da pegada, marcada em solo seco, difícil de cavar. Ainda assim cada pegada tinha uma profundidade aumentada; e as marcas iam se espaçando, e as gotas sumindo, como se aquela transformação que a gente via nos desenhos da televisão de tubo-anos-oitenta estivesse acontecendo exatamente alí, bem na nossa cara.
“Isso é sangue”, digo a Raquel enquanto examino a última poça que veríamos naquele dia, e ela finalmente esbugalha os olhos. Simplesmente não quer acreditar, “sangue é vermelho!” ela grita. Mas ao olhar para Julia e o vizinho, condescendentes comigo, baixa a cabeça (e o tempo passa, como se ela estivesse vendo o passado e o futuro ao mesmo tempo; contemplando o inevitável e também a única possibilidade). Vê a poça, se abaixa e leva as duas mãos àquele líquido cor de pistache. Faz uma concha, olha para nós e resolve validar pelo palato o assombro daquela constatação. Então leva as duas mãos juntas à boca e bebe-babando aquele suposto elixir como se fosse um sorvete que escorre da boca da criança na praia, cotovelos abaixo, barriga e o nascer de um novo cordão umbilical. Um vínculo ‘a-la’ as novelas gráficas mais famosas, mas para nós muito real, pois vimos. Vimos a mulher crescer, Raquel enfurecer, esverdear, pisar. Vimos a mesma pegada, e uma lágrima verde que escorria pelo seu rosto enquanto olhava para nós.
Ela cai e pinga no chão. E as araras voam sob aplausos.
ECp
#euriscritor
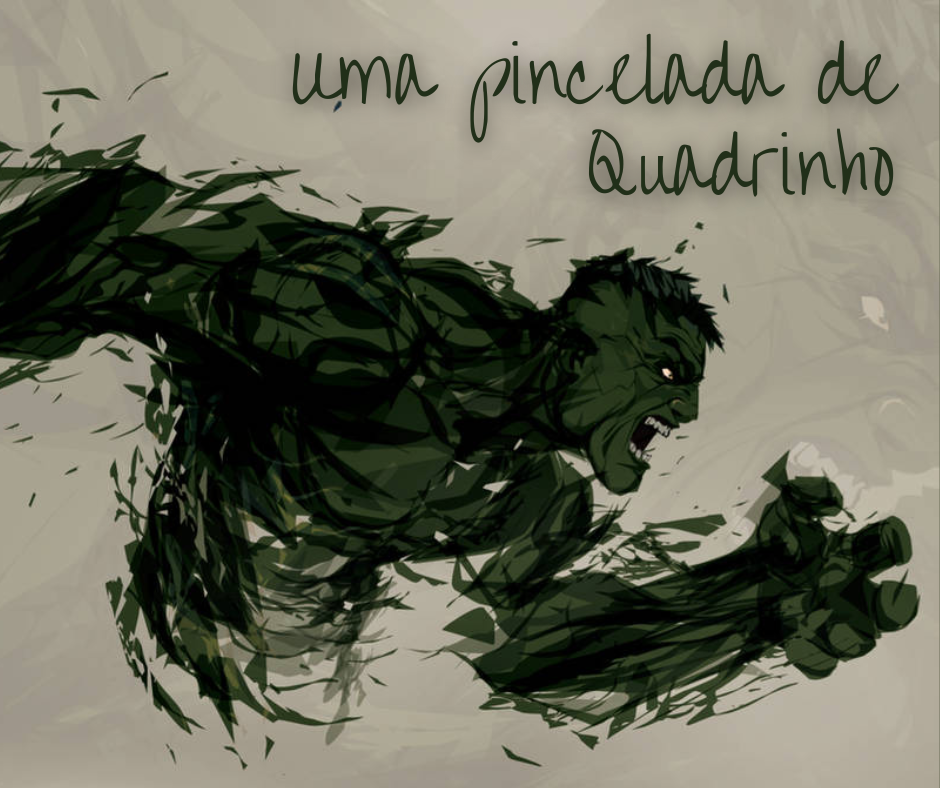
One thought on “Uma Pincelada de Quadrinho”